Em O
Lobo de Wall Street (Martin Scorsese, 2013), um homem (Jordan Belfort) conta
a estória de como deixou de ser um joão-ninguém para se tornar um homem rico e
poderoso através de lavagem de dinheiro e fraudes, para depois ser pego e
perder tudo, numa trama recheada de drogas, intrigas e crime. Dito assim, fica
evidente que o filme vem do mesmo molde (e do mesmo diretor) de Os Bons Companheiros (1990) e Cassino (1995). Por um lado, pode-se
dizer que Scorsese recorreu a uma velha “fórmula” (mesmo que o filme traga
novos elementos à sua filmografia), o que é uma pena. Por outro, O Lobo de Wall Street vai além de seus
antecessores em certos pontos, como na quantidade de sexo, drogas e palavrões
(o filme bateu o recorde de uso da palavra “fuck”
e suas variações em um longa de ficção, com 506 execuções), e, mais importante,
no ritmo, ainda mais frenético. Mesmo assim, é discutível se O Lobo tem a mesma
qualidade dos outros dois, principalmente Os
Bons Companheiros.
Em seu novo filme, Scorsese nos mostra como
seria se Jordan Belfort pudesse contar sua própria estória através de imagem e
som, guiando os acontecimentos do filme como se eles fossem vistos pelos olhos
do seu personagem principal, assim como fez em Os Bons Companheiros, com imagens congeladas, planos-sequência
grandiosos, narrações em off, músicas
aos montes e demonstrações de bravata e macheza. Assim, em boa parte (ou nas
melhores partes) do filme, a direção assume o caráter ou ponto de vista de seu
protagonista, se tornando extravagante e hedonista.
A edição de Thelma Schoonmaker, parceira
de Scorsese desde Quem Bate À Minha Porta
(1967), também assume o ritmo delirante de Jordan, numa montagem afiada e
rápida, digna de um viciado em cocaína. Mesmo com três horas de duração, há
pouquíssimos diálogos cansativos ou pausas para respirar, e elas se concentram
justamente no período em que Jordan se afasta dos negócios e das drogas, no fim
do filme. Até os blecautes e amnésias de Jordan são “respeitados” a princípio,
para depois serem revelados com grande efeito cômico. De certa forma, a fluidez
frenética do ritmo corresponde à obsessão doentia de Jordan por dinheiro e
poder e sua ambiciosa busca por uma vida de rei, que por sua vez reflete a
ambição de boa parte da plateia do filme e os recentes problemas econômicos internos
dos EUA, com protestos contra o acúmulo de capital do 1% mais rico da população
e o descontentamento geral com banqueiros e corretores.
Jordan praticamente não para por um
minuto para mostrar arrependimento ou consciência sobre o que está fazendo, a
não ser quando se divorcia da primeira mulher, num momento raro de comoção
genuína do personagem, que é rapidamente esquecido. Seus comentários e
reflexões são cínicos e irônicos, e geram um tipo estranho de empatia. Por um
lado, o charme e o senso de humor de Jordan (numa interpretação maravilhosa de
Leonardo DiCaprio) são inegáveis e o aproximam do público, principalmente com
ele se dirigindo a nós diretamente, mas sua vida é tão cheia de excessos e
loucuras que tudo passa a ser visto como que a certa distância segura, mas
irônica.
A câmera corresponde visualmente a esses
excessos com tomadas ostensivas, como o plano-sequência exagerado em que a
câmera viaja por sobre os convidados do casamento de Jordan com Naomi, as
sequências em câmera lenta demonstrando o barato dos “ludes” e as tomadas nas
quais ele discursa para seus empregados, em composições que o fazem parecer um
general falando para uma horda de soldados.
As próprias músicas da trilha sonora são
usadas de maneira exagerada e efêmera, como uma das coisas que Jordan compra e
descarta, com intervenções breves (a maioria de menos de meio minuto) e de
resultados variados. As músicas do filme (e são muitas, como em todo bom filme
de Scorsese) funcionam para encorpar o estado emocional ou o ritmo das cenas,
precisão cronológica à parte. Qualquer tipo de coerência quanto à época em que
as ações do filme se passam é jogada pela janela assim que começa o riff inconfundível da primeira música, Dust My Broom, blues cantado por Elmore
James em 1951, ou quando Everlong,
música de 1997 do Foo Fighters, é tocada. A ligação entre elas e as imagens nem
sempre é muito evidente, mas o conjunto passa uma ideia de macheza encenada,
diversão hedonista e um estilo meio “badass”,
casando bem com o clima do filme e dando urgência à montagem.
Mas seria tolice achar que a cumplicidade
de Scorsese com o protagonista vá além de propósitos narrativos e signifique
que o diretor seja leniente com as ações de Jordan e sua matilha, ou as
glorifique. Mostrar os absurdos dos corretores de Wall Street de forma
estilizada não é o mesmo que celebrar essas ações. Ao invés disso, o diretor
usa esses acontecimentos para tecer uma crítica a toda essa ganância, dotando
as cenas de um tom frequentemente satírico e irônico, que ridiculariza os
personagens. Até Kimmie, uma corretora que consegue ser humanizada e demonstrar
sentimentos, não escapa e só consegue pensar em seu terno Armani ao ser presa. Como
em Dr. Fantástico (Stanley Kubrick,
1964), as situações na qual o filme se baseia são tão absurdas que é impossível
mostrá-las de forma séria e realista. Sob essa perspectiva, o filme se torna
uma ótima comédia, e não uma tragédia enfadonha.
P.S.: dando continuidade à comparação com Os Bons Companheiros, é uma pena que Naomi não tenha direito a mostrar seu ponto de vista tão claramente quanto a mulher de Henry. Seria uma boa chance de humanizar e desenvolver a personagem, que muitas vezes não passa de um fantoche ou modelo. Aliás, a dificuldade de desenvolver seus personagens femininos é uma dificuldade de Scorsese desde sempre.
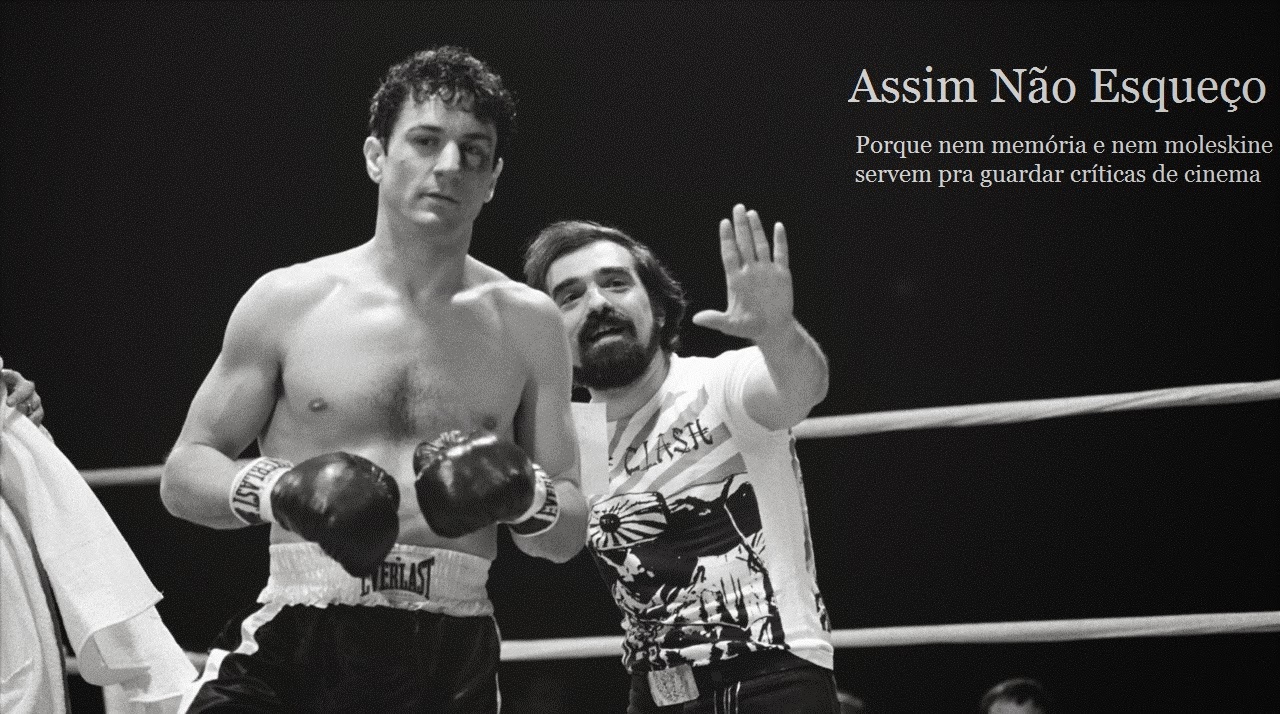
.png)


.png)
.png)
.png)

.png)
