Meu Deus, será
que Jim Jarmusch resolveu finalmente fazer jus aos seus cabelos eternamente
brancos e se tornou um velhinho ranzinza? Não que filme seja chato ou
antiquado, longe disso. Aos 60 anos, o diretor se mantém absurdamente cool, hip, entre outros adjetivos semelhantes. É que, mais do que uma
“estória de vampiros”, este é um filme profundamente nostálgico, saudoso. E que
forma melhor de tratar de nostalgia do que através de vampiros, esses seres
soturnos, melancólicos, que tratam o passado com reverência e saudosismo e o
futuro com desdém e desesperança?
Esta nostalgia,
tão preciosa ao filme, é tratada de diversas formas. Em primeiro lugar, ela
está na forma do casal de vampiros de se referir ao presente, sempre como uma
época estragada pela estupidez dos “zumbis” (forma sarcástica e resignada de se
referir aos humanos), que fazem guerras por motivos mesquinhos e contaminam a
água e seu próprio sangue, só para citar algumas coisas. Esta visão do presente
como algo decadente também está no próprio olhar de Jarmusch sobre as cidades
principais do filme: Detroit e Tangier. De certa forma, os travellings laterais com a câmera passeando e vendo a cidade pelo
vidro do carro são os mesmos de Uma Noite
Sobre A Terra (1991) e do início de Daunbailó
(1986), porém mais carregadas de um afeto pelas partes mais esquecidas das
cidades, com marcas visíveis da passagem do tempo. Obscuras, sim, mas ainda
vivas e pulsando história. De fato, as duas cidades são colocadas como lugares
que já ultrapassaram seu auge, mas ainda guardam traços da beleza e graça de
outrora, como os próprios vampiros.
Além disso, o
casal de vampiros, formado por Adam (Tom Hiddlestone), uma versão menos tímida
e mais sombria de Jimmy Page (com o truque do arco de violino na guitarra e
tudo) e Eve (Tilda Swinton), uma mulher
carinhosa e apreciadora da literatura e da natureza, transparece nostalgia
também no seu gosto pela arte - principalmente a música - e por instrumentos
musicais antigos. Mas a arte não é a única coisa lembrada com saudosismo, já
que Adam menciona, em tom melancólico, o fato do lugar onde Henry Ford fez seu
primeiro modelo ter se tornado um suntuoso teatro e depois um estacionamento.
Assim, a crítica se estende ao fato de os “zumbis” não tratarem com respeito
seu próprio passado, ao contrário do que fazem os vampiros, se lembrando de
coisas que aconteceram séculos atrás. Essa nostalgia acaba sendo também uma
forma de escapismo, com o casal frequentemente remetendo ao passado, o que os
faz esquecer do futuro obscuro à frente, e os afasta do presente tedioso.
Assim, a irmã
mais nova de Eve, Ava (Mia Wasikowska), aparece como uma antítese dos traços e
ideias do casal. Impetuosa e irresponsável como uma adolescente, ela faz o
casal parecer mais maduro por contraste ao desrespeitar a “ética dos vampiros”
e matar Ian sem motivo plausível. Somando-se isso à suas referências ao Youtube
e a downloads e pode-se inferir que ela representa parte do que há de pior na
era digital, não demonstrando nenhum interesse pela erudição e pela apreciação
da arte, tão importante à sua irmã e ao seu cunhado. A própria cidade que ela
escolheu para morar, Los Angeles, é um reflexo irônico de sua imaturidade.
L.A., lar de Hollywood e suas celebridades e holofotes, é o oposto de Detroit e
Tangier em termos de nostalgia e relação com o passado – ao contrário do que o
Oscar faz parecer nos últimos anos. A irresponsabilidade de Ava e o fato de ela
ser o que mais chega perto de causar a morte do casal (mesmo que indiretamente)
mostra uma clara predileção do diretor por Adam e Eve, e acaba sendo uma sarcástica
cutucada do diretor contra a indústria do cinema mainstream americano, que ele claramente desdenha.
Esse tipo de
sarcasmo ácido está presente ao longo de todo o filme, e é um dos fatores que o
impedem de se tornar apenas mais um lamento saudoso. O exemplo mais óbvio é de
quando o corpo de Ian é queimado no ácido, levando Eve a exclamar: “wow, that was visual”. A piada funciona
justamente porque não se assiste um filme de Jarmusch com a expectativa de se
ver uma cena com efeitos especiais tão destacados. O diretor também brinca com
convenções ao mostrar um trecho de clipe de TV de 1975 com a música “Soul
Dracula”, com um vampiro caricatural e bizarro, mas não muito longe das bizarrices
que temos visto associadas ao mito dos vampiros nos últimos anos. Outra
cutucada irônica vem quando Adam diz esperar que a ótima cantora libanesa
(Yasmine Hamdan) que ele vê num bar não fique famosa, pois “ela é boa demais
pra isso”. Afinal de contas, por mais que Jarmusch tenha se mantido sempre
marginal, a postura de Adam em relação à sua música é extrema até mesmo para os
padrões do diretor.
Esse
posicionamento forte de Adam em relação à música exemplifica bem não só a
importância que ela tem para ele, mas para o filme como um todo também. Aqui, a
música aparece como uma forma de mostrar nostalgia (tanto Adam quanto Eve
adoram a música pop e o rock dos anos 1950/60/70 mais que qualquer música
contemporânea, com exceção de Jack White, que sempre pareceu fora de seu tempo
mesmo), de expressão pessoal (principalmente para Adam) e de escapismo (Adam se
fecha em seu mundo musical para tentar superar o tédio de se viver por séculos
e séculos e séculos). A trilha sonora também é essencial para os close-ups em
câmera lenta de quando os vampiros tomam sangue (entre as melhores cenas do
filme), com os riffs hipnóticos e
distorcidos reforçando a ideia mostrada na expressão dos atores de que, para os
vampiros, beber sangue é perder a noção de tempo e espaço e se entregar a um
vício, em êxtase, como se eles fossem viciados em drogas.
No geral, a
trilha sonora junta bem o barulho industrial sujo de Detroit com os sons
misteriosos e elegantes de Tangiers, atuando como mais uma forma de união entre
Eve e Adam – além da separação de cores entre branco/amarelo para Eve e
preto/azul-escuro para Adam que os fazem parecer representações de yin-yang. É
um plano de fundo musical atmosférico, e, acima de tudo, essencial ao filme e ao que o torna memorável.
Outro fator que
se destaca é o senso de romantismo – primeiro no sentido artístico da palavra -
nos personagens principais, evidente no seu escapismo como forma de fugir da
realidade, na sua postura contra o industrialismo descontrolado e na
importância dada aos sentimentos “verdadeiros” (mostrada no discurso
anti-suicídio de Eve). Pegando pelo sentido mais comum, a relação dos dois
parece autenticamente amorosa e fiel, ainda que complicada, ao contrário de
outros casais de vampiros de filmes, que geralmente parecem engessados e
falsos, ou com um claro domínio do homem sobre a mulher, o que não ocorre aqui.
Jarmusch até se permite brincar com o clichê dos vampiros como senhores de
modos antiquados e corteses na cena do reencontro, mas a verdade é que os
personagens principais recebem uma construção justa, ou pelo menos melhor que
em outros filmes do gênero.
No fim das
contas, as mordidas que os salvam também são românticas, não só por serem
feitas no modo da rua, como antigamente (“isso é tão século XV”), mas também
por serem possibilitadas pela possibilidade de amor do casal marroquino, e por
selá-lo como mais um par de “amantes eternos” através dos séculos. Numa época
em que parece antiquado e ultrapassado um casal passar mais de dez anos juntos,
não há como isso não parecer romântico, o que é complementado com o “excusez
moi” de Eve antes do ataque.
Por mais que o
ato final e o filme como um todo mostrem falta de consideração com os “zumbis”
e suas vidas, a tentativa de Adam ver sua arte ser lembrada ao longo dos tempos
(“just to see if it would echo back”)
diz justamente o contrário. Isso porque dessa forma ele mostra que a construção
da memória da humanidade e da história de sua arte podem até ser motivo de
desapontamento, mas ainda assim são processos que merecem interesse e atenção,
mesmo de um vampiro como ele. E não é essa uma indagação que comum a todo
artista em algum momento? E este filme, como será lembrado?
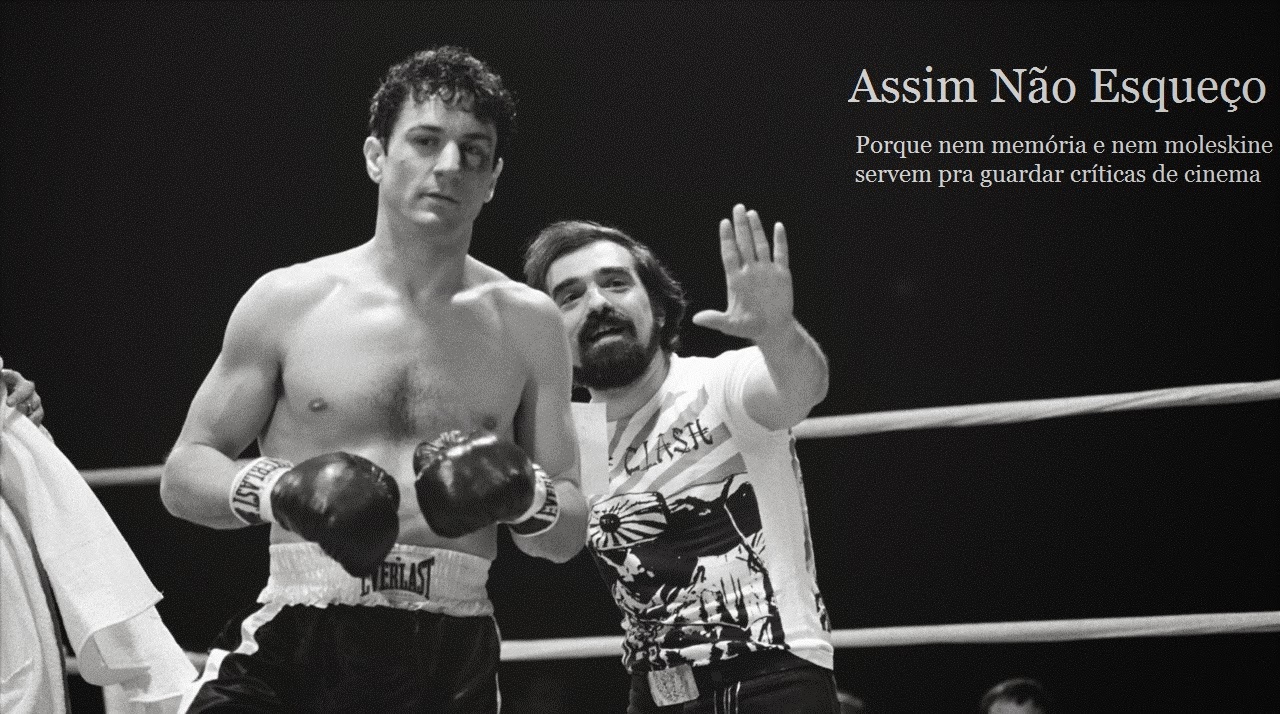










.png)