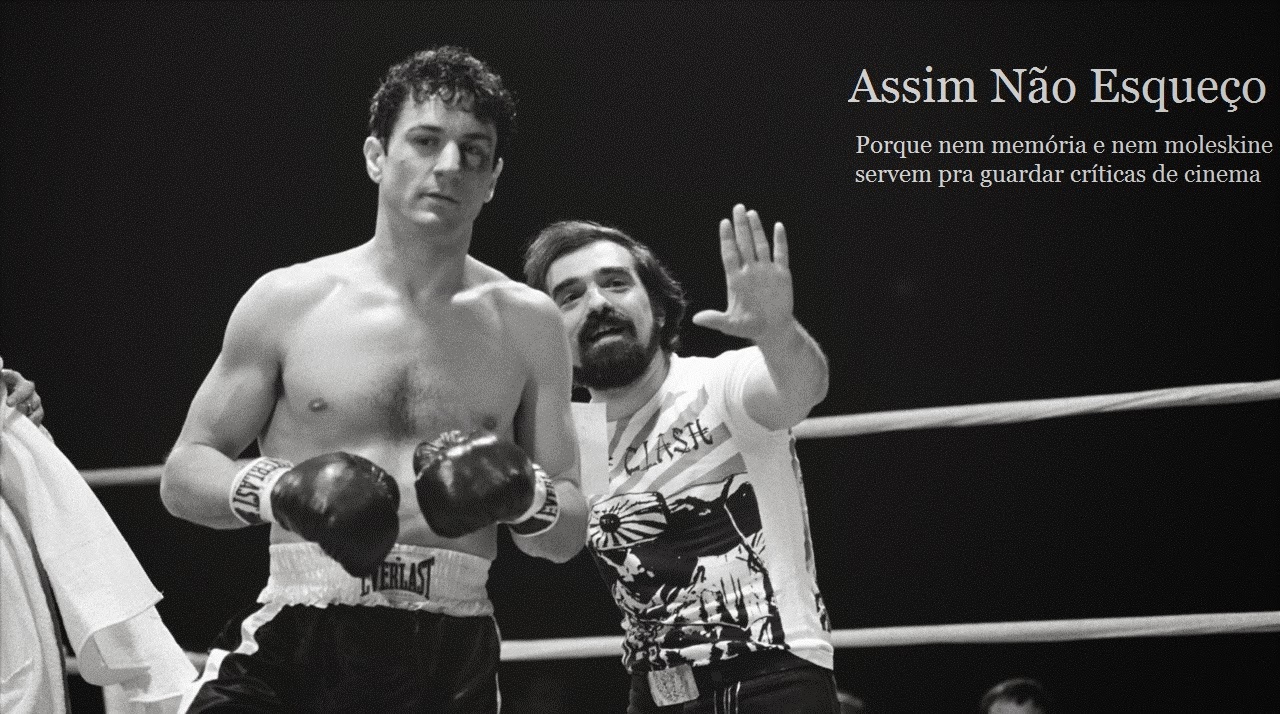Fui
ver A História da Eternidade (Camilo
Cavalcante, 2014) sem muitas expectativas, depois de ter ouvido alguns
comentários bons e outros ruins sobre o filme, mas nada de mais. Quanto ao
gênero, eu esperava um drama (na verdade eu esperava algo bem dramático), baseado
no que vi no trailer. Ok. Sendo assim, me surpreendi quando comecei a ouvir
algumas risadas nervosas e debochadas vindas de alguns cantos do cinema,
causadas por alguma coisa banal que algum personagem disse de maneira bem
séria. Pensei algo como “ah, não, peguei uma plateia besta na Fundaj de novo”
nas primeiras vezes em que isto aconteceu, mas depois de um tempo eu comecei a
tentar ver motivos no próprio filme pra essas risadas. Podiam ser as atuações,
que às vezes pareciam um pouco caricatas demais, ou exageradas demais. Não
sabia dizer com certeza.
Depois
é que fui notar que realmente era difícil não rir quando um personagem de
sotaque paulistano absolutamente caricato e falso, depois de tentar dizer o
máximo de gírias paulistanas que é possível se dizer em dez segundos, exclama “o
que é isso mesmo, vó?”, ao que ela responde “jerimum”, do jeito mais “vovozinha
servil e amável” que se pode imaginar. Nesse momento é que eu fui entender o
problema. Aquela era a risada da pessoa da cidade grande que vê a pessoa do
interior (do Nordeste, pra ser mais específico) com uma lupa ou microscópio –
mantendo uma distância segura sempre – e aponta pra ela rindo sempre que ela
faz alguma coisa de “matuto” (ou seja lá qual for o apelido de sua preferência).
O tipo de pensamento que gera esta risada característica está enraizada em uma
cultura que, talvez numa tentativa de exprimir alguma espécie de cor local,
frequentemente olha as pessoas do interior sob uma perspectiva de
superioridade, retratando elas e seus hábitos culturais de uma forma que os
diminui e os ridiculariza através da caricatura e da zombaria.
E
esta abordagem do interior está profundamente presente em A História da Eternidade. Perceba como vários dos estereótipos mais
comuns relacionados às pessoas do interior estão presentes no filme e
distribuídos entre seus personagens: temos o patriarca-coronel machista que
fala alto e grosso mas que é tão bruto que não consegue expressar emoções
positivas ou ternas (Nataniel), a velhinha fervorosamente católica que vê toda
expressão de sexualidade de sua parte como pecaminosa e passível de punição
após a morte de seu marido (Dona das Dores), a adolescente angelical e inocente
que anseia em ver o mar e por trás do jeito recatado esconde um desejo sexual
proibido e incontrolável (Alfonsina), e por aí vai. Ah, e todos eles têm nomes
incomuns e “feios”, claro. E gostam de um forrozinho. E vivem na seca.
Enquanto
isso, os dois personagens vindos da cidade grande ou que tiveram algum contato
duradouro com ela (João e Geraldo) apresentam um jeito mais “civilizado” e meio
descolado ou artístico - como queira -, fazendo os interioranos parecerem menos
civilizados e mais arcaicos e ignorantes em contraste, e geram nos habitantes da pequena
cidade sentimentos libertadores e positivos, de certa forma. No entanto, ao fim
eles acabam morrendo, como se fosse impossível para eles sobreviver naquele
ambiente – quase – inóspito, que realmente não é seu lugar.
Camilo
Cavalcante tenta pontuar essas relações com momentos de beleza sublime e
edificante, nem que para isto ele tenha que imitar Rashomon (Akira Kurosawa, 1950), As Harmonias de Werckmeister (Béla Tarr, 2001) – diversas vezes -, Lavoura Arcaica (Luiz Fernando Carvalho,
2001) – não só pela narrativa que aborda as consequências do cerceamento da liberdade de expressão ou sexual do patriarcado, mas também pela própria figura do irmão bastardo, epiléptico e incestuoso, que eu achei que já tinha se
esgotado com ele -, entre outros. Em alguns momentos, esses momentos conseguem
realmente transmitir os sonhos e desejos dos personagens de forma poética e
transmitir uma experiência quase transcendental dos personagens, em especial na
“ida” de Alfonsina ao mar e na performance de João ao som de ‘Fala’, da Secos
& Molhados. Em outros, o embelezamento me parece forçado e meio falso, como
na cena em que Dona das Dores observa seu neto comer com uma iluminação que parece
tentar ser mais barroca e dramática que um quadro de Caravaggio, ou no
plano-sequência do final, com a chuva falsa que cessa – obviamente e
bruscamente demais – depois do momento de maior drama e os gritos gravados na
pós-produção em estúdio.
O
que se mantém mais regularmente satisfatória é a trilha sonora de Zbiginiew
Preisner – principalmente nas partes com sanfona -, apesar de ser usado um
pouco demais. E o trabalho da maioria dos atores, que se mantém geralmente
empenhados e com performances fortes – apesar do roteiro que não os deixa
escapar dos vícios de “cor local” já citados -, especialmente Irandhir Santos.
Mas
é difícil virar os olhos para os problemas de um filme cuja narrativa não só é
movida e impulsionada pelas diferenças entre os personagens do interior e os da
cidade, como parece reforçar ou manter estas diferenças fora das telas também,
mesmo que sem absoluta intenção, afinal isto é discutível e eu não posso
afirmar tal coisa com certeza. Mas não consigo não pensar que, enquanto algumas
pessoas sairão do filme achando terem se divertido por terem visto algo belo e
sublime e transcendental e etc, outras podem se lembrar do quanto se divertiram
apontando o dedo para a tela e pensando/falando: “olha só, que engraçado, eles
falam ‘carcará’ e ‘presepada’ e só comem jerimum e carne de sol!”; ou “tá vendo
que esse pessoal do interior é estranho? eles transam com os parentes [e com
bichos, afinal só faltou essa]!”. Ou talvez alguém se divirta por ambas as
razões, e aí é que está o problema.