Justo quando eu
achava que já tinha colocado Jim Jarmusch numa fôrma e sacado seu estilo, ele
aparece com aquele que talvez seja seu filme mais excêntrico, e com certeza é o
mais sombrio e político Se os seus quatro longas anteriores eram relativamente
similares, podendo ser colocados como “comédias com tons sombrios”, o diretor
inverte isto em Dead Man, um filme “sombrio
com tons cômicos”.
Nele, o ingênio
contador William Blake (Johnny Depp), de Cleveland, pega um trem para o Velho
Oeste americano até a cidade de Machine atrás de uma vaga de emprego. No
entanto, após ter a vaga recusada e matar o filho do “dono da cidade” quase sem
querer (e ver ele matar seu possível interesse amoroso), ele é obrigado a se tornar um fora-da-lei e fugir, se embrenhando pelo Oeste
na companhia de um índio chamado Nobody. Jarmusch transforma essa estória numa
estranha mistura de road movie e western psicodélico com uma forte crítica ao
homem branco americano e sua conduta essencialmente violenta – desde o
despertar do país. Tudo isso em meio a uma jornada espiritual de um homem para
encontrar sua morte, já que a jornada de Blake em direção ao extremo Oeste americano é também uma jornada em direção ao seu próprio fim.
No Velho Oeste
retratado pelo diretor, qualquer tipo de harmonia, carinho ou humanidade nas
relações entre as pessoas se perdeu. A sociedade branca retratada é doente,
perversa, suja, e, acima de tudo, violenta. Isto fica evidente já nos primeiros
minutos, quando a florista (e ex-prostituta) Thel responde à pergunta sobre o
porquê dela manter uma arma debaixo do travesseiro com “porque esta é a América”.
É uma resposta dotada de uma comicidade irônica e ácida, mas não há nada de
cômico na forma como Jarmusch lida com a violência aqui. Os tiroteios e as
mortes são recorrentes, mas o diretor nunca deixa de retratá-los de forma
desajeitada, feia, seca, se recusando a esconder a violência mas também a estilizá-la
ou embelezá-la como outros diretores (sim, estou falando de você, Tarantino).
Não é por acaso
que, conforme William Blake vai sendo obrigado a matar mais pessoas para fugir,
sua reação às mortes é cada vez mais fria e desligada, sim, mas ele parece ficar
também cada vez mais abatido e consternado com isso. Além do mais, essa
transformação de Blake nunca é colocada como algo positivo, pelo contrário.
Jarmusch aproveita essa transformação e a reputação crescente de Blake como
matador para ironizar o culto aos foras-da-lei e bad boys (por mais violentos
que sejam) da sociedade americana. Por outro lado, o assassino profissional
Cole Wilson, incapaz de mostrar remorso ao matar suas várias vítimas, só pode
ser retratado de forma exagerada e quase caricata, amassando crânios com as
botas e comendo carne humana no espeto.
Mas a violência
presente no filme não é só de homem branco contra homem branco. Já no início do
filme, Jarmusch faz questão de mostrar aldeias indígenas completamente
destruídas, lembrando o genocídio dos nativos que possibilitou a ocupação do
território americano pelos brancos e a formação do país. Até os búfalos são
transformados em pontinhos num jogo de “tiro ao alvo”, com incentivo do governo
– caça aos búfalos era estimulada para acabar com a subsistência e presença dos
índios. E, quando Nobody vai à “loja de conveniência”, ele é atendido de forma
grosseiríssima (outro tipo de violência), como se fosse um branco racista
atendendo um negro numa cidade qualquer americana do século XX (ou XXI), assim
como numa cena de Trem Mistério. E o
vendedor ainda lhe oferece lençóis envenenados!
É justamente o
contrário da postura do diretor, que se mostra imensamente respeitoso com a
cultura indígena, fugindo dos clichês e abordando-a de maneira poética, e não
simplista, ou como se olhasse de cima pra baixo. Esse respeito se mostra mais
claramente na importância dada a Nobody, essencial na construção do personagem
de Johnny Depp e quase tão importante para o filme quanto ele. Assim como
Blake, Nobody é um outsider nato,
daqueles tão amados por Jarmusch, não sendo aceito nem entre brancos e nem
entre índios, dando a ele (e a Blake, que também destoa gritantemente dos
brancos da região) a chance de olhar os dois grupos de fora. Mas a simpatia
tanto de Nobody quanto de Jarmusch está claramente do lado dos nativos, e o
índio é mostrado executando alguns dos rituais deles de forma respeitosa.
Desses, o que
mais chama a atenção é o uso do peyote – planta com propriedades alucinógenas –
para se conseguir “visões sagradas”, já que ele parece influenciar em certa
medida a própria estética do filme com um pouco de psicodelia. A eventual
aceitação da morte (anunciada) por parte de Blake também é um sinal de
aproximação com a cultura e a espiritualidade indígenas, principalmente na cena
em que Blake se deita no chão ao lado de um cervo morto, como que lamentando o
fim do animal (e o seu próprio, por consequência). De certa forma, a própria
decisão de não usar legendas durante as falas dos índios em sua língua nativa
também é um sinal de respeito, já que valoriza a língua e os poucos que a
entendem.
Jarmusch
encadeia essa jornada espiritual de Blake num ritmo bastante particular, lento (hipnótico
para alguns, chato para outros), pausado, que lembra filmes do cinema clássico
japonês com suas cenas tratadas como unidades independentes e separadas por
fades, ou, em algumas cenas específicas, o lado contemplativo do cinema de
diretores como Andrei Tarkovsky e Béla Tarr.
Já a fotografia
em preto e branco de Robby Müller complementa a visão dura de Jarmusch com uma
paleta cinzenta, áspera, sem brilho. As composições usam de certo rebuscamento
em alguns momentos, principalmente quando assumem o ponto de vista de Blake,
mas são os movimentos lentos de câmera (quando ela se move, o que não é tão
frequente assim) que marcam o ritmo do filme.
Mas é na trilha
sonora de Neil Young que o filme como um todo acha seu melhor correspondente
técnico. A música criada por Neil Young é minimalista, atmosférica, se apoiando
mais em passar um estado de espírito (“mood”)
através do improviso e da repetição de um tema do que em melodia ou harmonia.
Ela também mostra um lado mais duro e sujo no alto nível de distorção da
guitarra, que ecoa ao longe como uma versão sonora das paisagens desoladoras do
filme. Além disso, a escolha da trilha “moderna” liga a narrativa à atualidade,
deixando claro que a América retratada pode ser a do fim do século XIX, mas
suas características violentas, racistas, espiritualmente pobres ou
simplesmente más ainda estão presentes e profundamente enraizadas nos Estados
Unidos na época em que o filme foi feito, e também no século XXI.
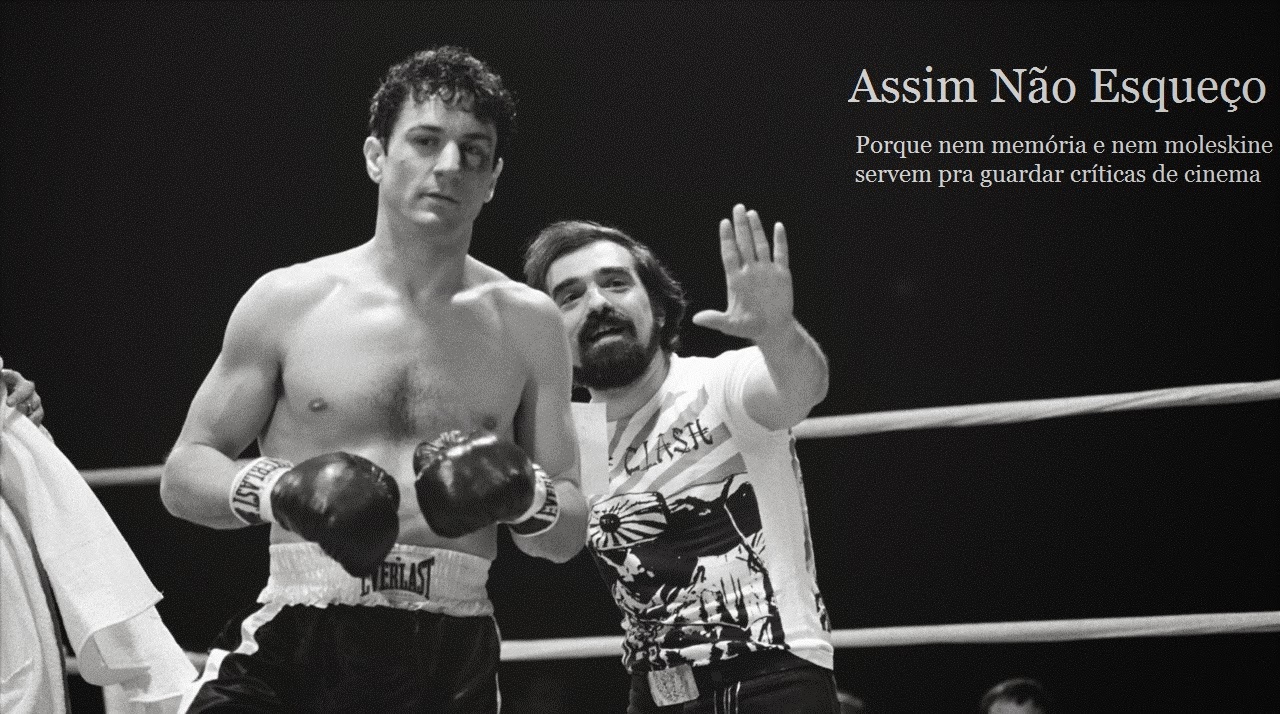

.png)
.png)
.png)
.png)