A fascinação da câmera do diretor Roger Vadim pela beleza do
corpo de sua jovem mulher é evidente e decididamente fetichista em vários
momentos, como se ele tivesse prazer em filmá-la ou quisesse mostrá-la como uma
criação divina de fato (em alusão ao título), mas a Juliette de Brigitte Bardot
supera os fetichismos fragmentados e essencialmente recatados (pelo menos se
vistos pela ótica atual) de sua época, mostrando-se praticamente de corpo
inteira e reclamando a posse desse corpo para si.
Nua como Eva desde os primeiros planos do filme, ela ajuda a
criar uma nova forma de se ver e pensar a sexualidade feminina, com uma
personagem que deixa de lado o sentimento de repressão e culpa em relação ao
sexo que tem sido historicamente imposto às mulheres para abraçar sua
sexualidade e sua liberdade de se expressar com seu próprio corpo. Mesmo assim,
há que se fazer justiça mencionando que Vadim se mostra definitivamente mais
conservador que Ingmar Berman em “Monika E O Desejo” (1953). Essa sim era uma
mulher realmente ousada e incontrolável.
Se recusando a servir como um mero objeto de desejo passivo,
Juliette chega a brigar pela atenção de três homens, sem nunca se deixar
parecer vítima ou controlada. Juliette é uma sedutora, sem dúvidas, mas isso
não é mostrado como uma característica maligna ou corrompedora – tanto dela
mesma quanto dos outros. As femme fatales
também usavam sua sexualidade com desenvoltura e seduziam os homens, sim, mas essa
sedução acaba fazendo-as serem punidas no final, ou corrompendo os heróis que
caíam em seus encantos. Não é isso que acontece aqui.
Obviamente Juliette é tratada como uma depravada, louca,
vadia e por aí vai (ainda que o filme nunca adquira um tom realmente pesado ou
as difamações nunca cheguem a ser graves), mas o que se pode ver é uma moça
impetuosa, romântica, imatura e fogosa (sim! e sem vergonha de admitir isso). E
convincente, graças à performance graciosa de Brigitte Bardot. A cena da dança
no bar é a prova cabal disso, principalmente em sua reação após levar um tapa:
triste, assustada, mas segura de si.
A decisão de Juliette de voltar para o marido parece mal
explicada e desenvolvida, especialmente depois dele corroborar (ao menos em
parte) com o discurso machista e retrógrado de que ela precisava de um
corretivo, mas faz certo sentido. Sim, ela demonstrava ter anseios de liberdade
que não pareciam condizer com a vida regrada do marido, mas ele foi o único que
soube tratá-la com amor e respeito, afinal. E por mais que o final pareça
desajeitado e corrobore em parte com a noção de que a mulher só pode ter uma
existência plena e feliz por meio da união matrimonial, ele não parece tão sem
pé nem cabeça quanto o de Alta Sociedade
(Charles Walters, 1956), por exemplo.
Bardot à parte, não se pode negar que a montagem do som é
desajeitada, que a trilha sonora é dispensável e que as várias tentativas de
usar toda a amplitude do Cinemascope nas composições com alta profundidade de
campo são irregulares, e dificilmente exploram bem esse recurso. Além disso,
alguns finais de cena (especialmente a cena final) parecem bem abruptos e
insatisfatórios, quase displicentes.
Esse olhar fetichista de Vadim se revela mais frequentemente
em escolhas de figurino (ou a falta dele) de natureza bastante sugestiva do que
propriamente em planos fechados ou closes. Mesmo vestida, Bardot parece muitas
vezes estar se revelando por inteiro, de tão hipnótica que é sua aparição. E de
certa forma, a câmera que foca apenas em suas pernas na cena de dança do bar
(única vez em que a câmera foca em alguma parte do corpo específica que não
seja o rosto) retrata bem o desejo que ela provoca ao longo do filme. No fim
das contas, o olhar que mais importa no filme é o da própria Juliette/Bardot,
que mistura desejo e firmeza de mulher com inocência e humor de menina.
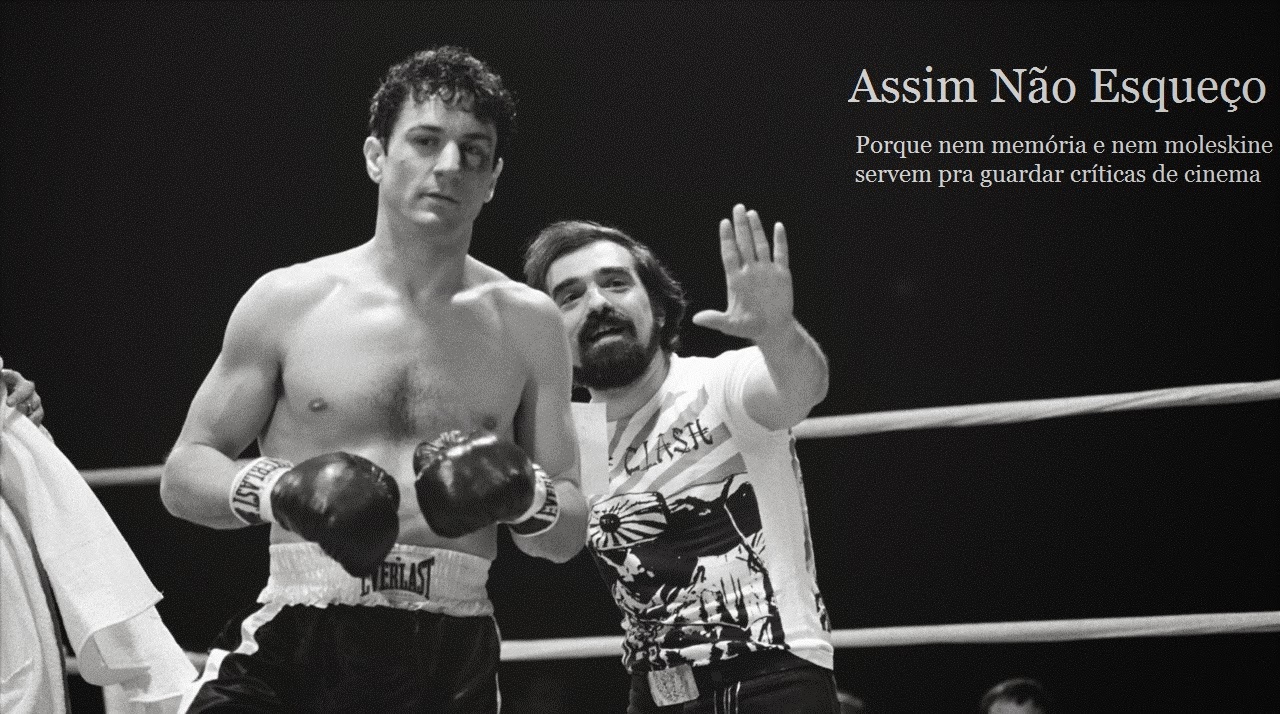
.png)
.png)