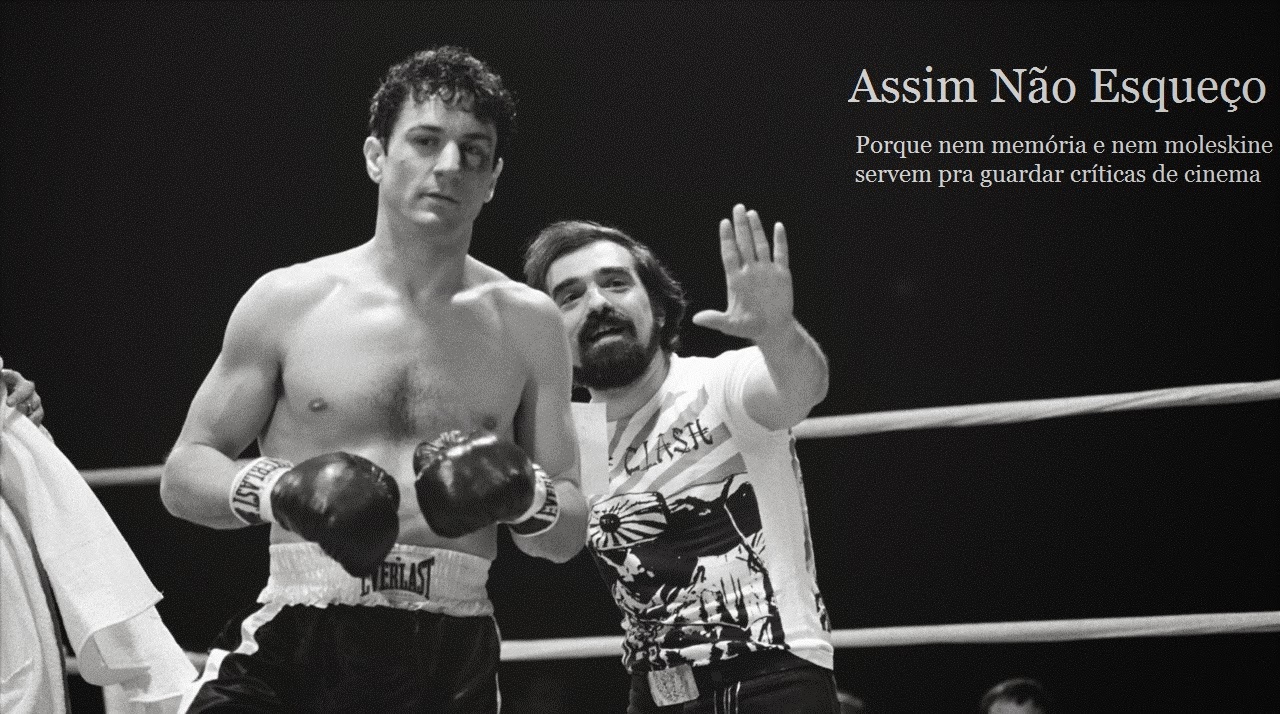Se Christopher
Nolan pode fazer referência à parábola de Lázaro para ilustrar sua história,
permita-me então dizer que o diretor mais parece encarnar o personagem Ícaro em
seu novo filme. Ok, ele abusa menos dos clímaces superdilatados de meia hora
com a ação dividida em diversas localidades do que em outros filmes, mas ele
nunca tinha feito um filme tão longo, com tantas estrelas, tantos efeitos
especiais, numa escala tão grande ou com tantos detalhezinhos e problemas para
o protagonista. Para não sair do campo das mitologias, a jornada do
piloto/fazendeiro Coop pode ser comparada também à de Ulisses na Odisseia, que, assim como todos os
outros protagonistas dos últimos filmes de Nolan, enfrentam mil tormentos para reestabelecer
o contato com suas famílias e retornar a uma ideia de lar ou casa que já se
perdeu. Enfim, nada muito diferente de tantas e tantas jornadas de heróis ao
longos dos séculos.
Mas não é pela
falta de originalidade que Nolan parece Ícaro, e sim pela megalomania, pelos
excessos, pela artificialidade e superficialidade. Mais uma vez, Nolan (e seu
irmão) enchem o roteiro de informações desnecessárias e conflitos que vêm a ser
resolvidos ou contornados até com certa facilidade, o que faz eles parecerem
até evitáveis, principalmente quando levam o filme a tropeçar em seus próprios critérios
de verossimilhança. Isso revela um diálogo verborrágico, excessivamente
preocupado em criar um turbilhão de informações num esquema que mais parece um
quebra-cabeça que dá ao espectador uma sensação “overwhelming”, de confusão, que pode acabar sendo confundida com
complexidade, profundidade ou “viagem”. Como consequência, os diálogos
frequentemente parecem carregados, mecânicos, desprovidos de senso de improviso
ou informalidade, e com personagens que parecem se expor demais, tentando
colocar para fora seus sentimentos e ideias mas parecendo estarem mais
elaborando em cima dos “temas” do filme. Que são muitos, diga-se de passagem,
passando desde a falta de cuidado dos seres humanos com os recursos naturais da
Terra até corrida espacial, relação entre pais e filhos, teoria da
relatividade, conflito entre razão e emoção, possibilidade de vida inteligente
em outros planetas e desespero diante do apocalipse, só para citar alguns. Porém,
como já foi citado, o estilo verborrágico e excessivo do roteiro acaba tornando
a abordagem desses temas, em sua maioria, superficial, com uma história que
parece querer abarcar coisas demais.
O roteiro
megalomaníaco também acaba prejudicando vários personagens, que parecem mal
construídos ao não mostrarem coerência própria ou motivações convincentes. É o
caso da Dra. Brand, uma das personagens mais importantes da história, que tem
um caso de amor mal resolvido com o tal Dr. Edmunds. A relação de amor dos dois
é mencionada várias vezes, mas sempre com pressa, sem nunca chegar a convencer.
Brand até o usa como justifica para um discurso bastante piegas e que soa
totalmente fora de lugar sobre o poder do amor, mas isso não muda muita coisa.
Outro personagem mal construído é o filho de Cooper, Tom, principalmente em sua
fase adulta, quando é interpretado por Casey Affleck. Sua passagem de filho
fiel e dedicado a filho convencido a esquecer o pai é rápida demais para ser
convincente, apesar de gradual, e sua agressividade em relação à irmã carece de
motivação ou justificativa suficiente – a morte de um seus filhos é mencionada,
mas como algo jogado e mal explorado -, parecendo servir mais como auxílio na
construção do clímax do que qualquer outra coisa. Ao final, sua morte nem é
mencionada. O cientista interpretado por Matt Damon, Dr. Mann, também parece
carecer de evidências ou motivações que esclareçam suas ações, de tal modo que
até o competente Matt Damon parece perdido, parecendo são demais para ser louco
e desnorteado demais para alguém tão racional, por assim dizer. Já o primeiro
astronauta a morrer, Doyle, é tratado com tão pouca importância que nem
lembramos mais seu nome em cinco minutos após sua morte, que acontece numa cena
confusa que é concluída com um plano quase desrespeitoso de tão frio.
Mesmo mal
construídos, todos (ou quase todos) esses personagens contribuem, em níveis
diferentes, para a construção dos momentos e cenas de melodrama do filme, que marcam
a narrativa mais do que em qualquer outro filme de Nolan. O diretor explora
incansavelmente as idas e vindas da relação entre Cooper e sua filha, Murph,
explorando a carga dramática da separação dos dois e não se contendo em
transformar o filme em uma jornada do pai em busca de salvar e rever a filha.
Hans Zimmer pontua os momentos mais críticos e emotivos dos dois com uma trilha
sonora típica de melodrama, sentimental, apelativa, cheia daquele pianinho ao
melhor estilo “chore mais”. Ao seguir esse caminho (mais fácil), Nolan acaba
até tirando parte do foco nas atuações de seus próprios atores. Até porque
Jessica Chastain e Matthew McConaughey estão (e são) ótimos, e não precisam
desse tipo de coisa (ou pelo menos não tanto assim) para cativar o público.
O melodrama pode
ser novidade, mas a elaboração de sequências climáticas com dezenas de minutos
de duração ancoradas em montagem paralela não podia ficar de fora, seguindo
firme e forte. No entanto, apesar das cenas de clímax parecerem menos
megalomaníacas em Insterstellar, por
pelo menos durar menos e intercalar menos espaços do que em filmes como A Origem (2010) e The Dark Knight Rises (2012), isto não as torna melhor executadas.
Para funcionar bem, este esquema precisa de ações em espaços diferentes mas em
níveis de ritmos similares, mas não é o que ocorre aqui. Enquanto Cooper tenta
aprender a manipular a gravidade no espaço gerado dentro do buraco negro por
“eles”, Murph quebra a cabeça para entender como captar os sinais do pai para
entender a mesma gravidade em seu quarto. Até aí tudo bem, mas enquanto as
seções de Cooper geram fascínio e tensão quase naturalmente pelo caráter
inusitado (ou espetacular) do cenário e pela boa interpretação de McDonaughey,
a tensão das partes de Murph é gerada pela possibilidade do irmão voltar logo
para casa e cometer alguma violência contra ela. No entanto, como já foi
colocado, essa possibilidade é mal construída, e acaba se desconcretizando de
forma embaraçosa. Sem falar que a quantidade de ações propriamente ditas que os
dois realizam é bastante diferente, já que Murph, na grande maioria da cena,
apenas... quebra a cabeça, ou seja, pensa, quase parada.
Outra coisa que
Nolan não podia passar sem são as comparações com outros filmes (melhores)
sobre viagem espacial, em especial 2001:
Uma Odisseia No Espaço (Stanley Kubrick, 1968) e Solaris (Andrei Tarkovsky, 1972), pela enorme influência dos dois
sobre qualquer filme que trabalhe com astronautas viajando pelo espaço e com
planos da Terra, da Via Láctea e de espaçonaves. As referências a 2001 ficam particularmente claras quando
a espaçonave entra no buraco de minhoca, lembrando a lendária cena da travessia
do portal da última parte do filme de Kubrick, ou todas as – poucas – vezes em
que Nolan utiliza uma valsa ou trilha sonora mais clássica para mostrar a nave
e os planetas de forma mais fria e contemplativa. Quanto a Solaris, as referências aparecem na noção de que existe um lugar do
espaço em que se pode comunicar com uma pessoa que se ama muito mas que está
muito além do alcance físico de um ser humano (o espaço multi-dimensional
dentro do buraco negro e o oceano do planeta Solaris) e no planeta cercado por
um oceano sem fim, por exemplo.
No entanto, por
mais que as referências visuais ou até sonoras sejam frequentes, a abordagem de
temas entre Nolan e os dois diretores citados é bastante diferente. Enquanto
Kubrick preferiu manter o mistério em relação à existência de vida inteligente
fora da Terra, Nolan resolve a questão de forma simplista e quase sentimental -
na cena em que Cooper se torna um dos seres superiores por uns instantes para
tocar a mão da Dra. Brand -, mas seguindo esquema semelhante ao de 2001, com a raça superior concedendo a
um humano o direito de também ascender a um nível superior depois de passar por
um portal dimensional, por assim dizer. A ironia e crítica de Kubrick ao
mostrar os conflitos e perigos na relação entre homem e máquina e os excessos
no uso da tecnologia também somem, com as máquinas sendo usadas como “melhores
amigos do homem” e motivadores de piadas. Claro, a paranoia sobre isso era bem
maior nos anos 1960, mas não deixa de ser lamentável que o tema seja deixado de
lado em favor da jornada do pai-herói, só aparecendo na cena em que o Dr. Mann
imita a clássica cena “open the Pod bay
doors, HAL”, de 2001. A diferença
é maior ainda em relação a Tarkovsky, já que, por mais que os deem sinais de
usarem a ficção científica como plataforma para tratar de dramas humanos, a
fascinação de Nolan pelo gênero é bem mais evidente, como fica claro na forma
como os dois observam os próprios planetas e estrelas, com Tarkovsky vendo-os
com um olhar de admiração, mistério e que remete à Terra ou sugere uma saudade
dela, enquanto Nolan os vê sem se demorar muito em planos contemplativos, de
forma mais analítica, calculista, como peças em um quebra-cabeça. Além disso,
por mais que, como foi citado, o “fantasma” de Cooper lembre os “fantasmas” da
esposa falecida de Kelvin em certo nível, Nolan usa o recurso para valorizar o
“poder do amor” e as possibilidades de inteligência superior dos humanos,
deixando claro o papel da ciência naquilo tudo e como ela pode salvar a Terra.
Já Tarkovsky usa isso como base para explorar o interior de Kelvin, com todos
os seus traumas, conflitos éticos e incursões do subconsciente, e sempre
mantendo uma dose de misticismo e do sobrenatural – ou seja, rejeitando a
ciência.
Estando Interstellar no campo das “ficções
científicas populistas”, talvez seja mais justa uma comparação com o mestre do
gênero, Steven Spielberg. E mesmo essa comparação desfavorece Nolan, já que os
filmes de Spielberg nesse estilo mantinham sempre em seu olhar um senso de
deslumbre e inocência, como o de uma criança descobrindo um brinquedo novo, o que
era até admirável, e até explica a preferência de Spielberg por não fazer de
seus filmes quebra-cabeças e manter neles alguns mistérios e pontas soltas. O
que é o contrário do que acontece com Nolan, que insiste em oferece a seus
espectadores filmes mastigados e calculistas sob uma ilusão de realismo,
sem espaço para ambiguidade.
No fim das
contas, talvez Nolan "peque" mais pelo excesso de manipulação do que por qualquer
outra coisa. O diretor parece querer colocar o espectador numa montanha russa
daquelas mais caras do parque da Disney, cheias de curvas e reviravoltas, com efeitos de
luz e som espetaculares e coisas pulando na sua direção de tempos em tempos. Mas
nem todos gostam de montanhas russas, eu suponho, principalmente quando já se
sabe de cor o percurso delas. Talvez Nolan devesse seguir o exemplo de seus
personagens e explorar novos ares, novos mundos, talvez um em que o tempo siga
seu curso mais devagar. Mesmo seus defensores poderiam agradecer (algum dia), já
que mesmo os maiores fãs de montanhas russas sabem que as mais significativas
ou melhores viagens que alguém pode fazer são as interiores (ou seja, que se passam dentro da cabeça de cada um), e não as exteriores em si (que indicam deslocamento espacial).