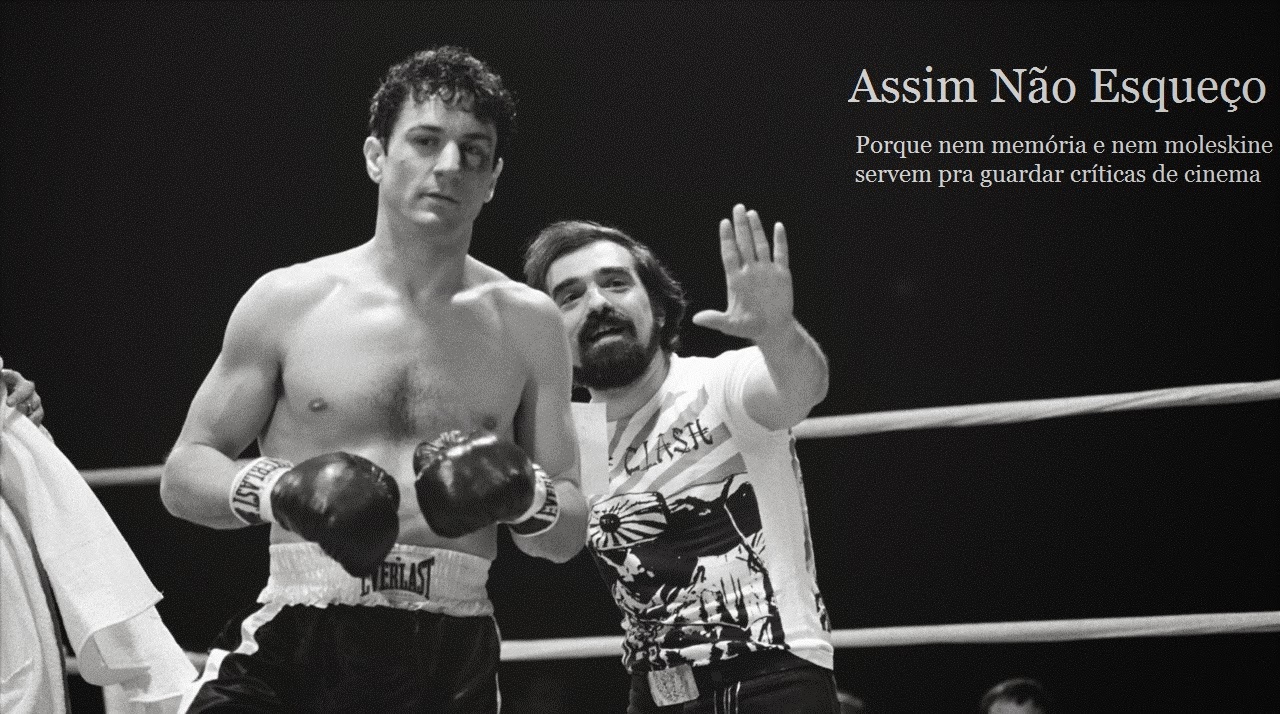Depois de cinco ou dez minutos de filme (é difícil dizer com
certeza), surpresa!, eis que surgem os créditos iniciais, junto com a voz de
Milton Nascimento na bela “Tudo Que Você Podia Ser”, que dá início ao lendário
álbum Clube Da Esquina (1972). Susto
à parte, essa demora até que faz sentido. O filme só começa realmente quando a
adolescente Cris se percebe só ao ver que seu irmão a abandonou no meio da
estrada, deixando-a incontestavelmente como personagem principal do filme.
A partir daí, Cris se vê perdida num mundo que para ela
parece estranho e potencialmente hostil, e ao qual ela é completamente
alienada, como se não soubesse da existência dele até então. E não é pra menos. Sendo uma adolescente de classe média-alta da Zona Norte recifense, Cris é levada a conviver com pessoas (empregadas domésticas e suas filhas, moradores de acampamento do MST, etc) com quem ela só teria contato nos noticiários e nas cozinhas e quartos-de-empregada dos apartamentos. Desse modo, ela passa a se dar conta de amarras nela mesma que ela desconhecia até então, amarras das quais ela vai tentando se
libertar aos poucos no decorrer de sua jornada.
Esse processo de amadurecimento e auto-descoberta é trabalhado
pacientemente pelo diretor Marcelo Lordello, através de uma série de encontros
de Cris com pessoas que percebem a realidade ao seu redor de maneira bem diferente da dela, com a protagonista
se comportando numa mistura entre alguém que tenta se proteger do
ambiente ao seu redor e alguém que percebe que precisa dos outros para
sobreviver. O que Cris consegue aprender e extrair de cada um desses
personagens pode até parecer óbvio a princípio, mas essas “lições” nunca são
abordadas de maneira moralista ou didática. Pelo contrário, o ritmo cadenciado,
quase meditativo do filme torna essas conversas
mais autênticas e interessantes justamente por seguirem por caminhos de mais
curvas que retas, por assim dizer, revelando aos poucos a personalidade de
Cris e os modos como ela se adapta às situações.
Sustentando tudo isso está o bom trabalho de Maria Luiza
Tavares - que interpreta Cris -, uma “não-atriz” que convence justamente pelo
que não atua. Ou seja, sua falta de
preparação profissional a torna desprovida de trejeitos e dramatizações típicas
de atores, visíveis especialmente nos mais jovens, o que a faz parecer mais
tímida, insegura e lacônica, e torna suas expressões mais difíceis de decifrar,
o que é justamente o que a personagem precisa. Não que ela não atue bem e
ponto... seus olhares em especial são bastante expressivos e convincentes.
Acompanhando a menina a todo o tempo está a câmera do
competente Ivo Lopes Araújo, que passa muito bem sensações de solidão,
estranheza e alienação através de suas imagens. Quando Cris passeia por
lugares estranhos a ela, a câmera até passa uma visão limitada e estrangeira
das paisagens, principalmente as partes mais pobres da Zona da Mata pernambucana. Para isso, Cris é filmada geralmente numa proximidade quase
desconfortável e claustrofóbica, enquanto “o outro” aparece frequentemente
desfocado ou em posição desfavorável no quadro. Mas o filme é justamente sobre
como a relação da menina com esse “outro” vai mudando ao longo de seu
amadurecimento, então o modo como essas pessoas são filmadas também se altera,
se tornando mais equilibrada e focada.
Mas claro, este é o primeiro longa de Lordello, e ele não
deixa de cometer alguns deslizes (mais técnicos que qualquer outra coisa). Com tantas
tomadas longas (algumas se estendendo por alguns minutos), é quase inevitável
que algumas pareçam se alongar por mais tempo que o necessário, o que acontece
principalmente pela combinação entre silêncio e falta de movimentação no quadro
(ou seja, dificuldade de manter o interesse). Às vezes o ritmo também parece
acelerar além da conta, tornando o diálogo mais direto que o necessário (ou que
o estabelecido pelo próprio filme), principalmente depois que Cris volta pra
casa. Em outros momentos, é o áudio dos diálogos que não soa claro,
dificultando um pouco a compreensão, ou as imagens ficam tremidas de um jeito
estranho. Enfim, isso é compreensível considerando o orçamento baixo do filme.
E considerando que este é o primeiro longa do diretor, é admirável
o quanto ele parece respeitar a pausa, a calma, o silêncio, interrompido em
momentos pontuais pela boa trilha sonora. Ou o quanto ele consegue revelar da personalidade de sua protagonista, mesmo com ela sendo tão reservada. Algumas das melhores passagens do
filme são silenciosas, como quando Cris reflete sobre os mistérios da vida
adulta ao falar com Pri ou se cala diante dos mimos e apertos da avó,
percebendo que, mesmo tendo voltado pra sua família, ela continua deslocada, à procura
de casa. Não o local “casa”, mas a sensação de estar realmente em casa, à
vontade, segura de si e de seu lugar no mundo. O sentimento de paranoia e alienação da classe média metropolitana diante de pessoas em situações menos favorecidas também é abordado com destreza, e mesmo tendo sido externado na fala do avô de Cris, não se deixa que ele passe para o primeiro plano do filme ou se torne exagerado. O que importa, sem dúvidas, é o que se passa na cabeça de Cris.
Leia Mais ►