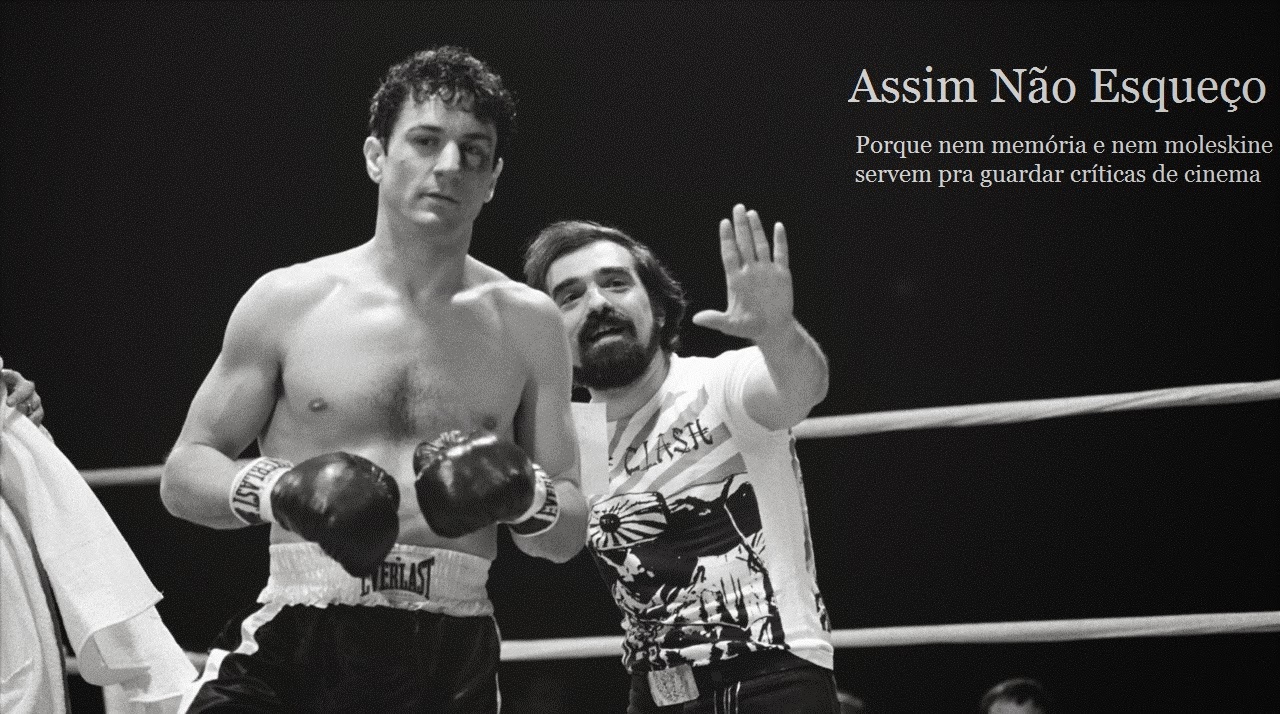Duas cadeiras à
minha direita no cinema, uma menina de uns 20 anos se sentou confortavelmente,
e depois de vestir uma meia três-quartos e um casaco, guardou o celular no
suporte que supostamente devia servir para copos. Quando seu celular vibrava (e
acendia!) ou quando o filme dava uma desacelerada, ela parava pra checar e trocar
mensagens, e às vezes nem assim, parecendo ter tido a impressão de que ele
tinha vibrado sem isso ter acontecido. Num mundo em que isso é visto como uma
ação quase normal e corriqueira, a sociedade futurista onde Ela se passa não parece tão distante
assim, o que pode tornar a visão de um mundo emocionalmente e afetivamente aleijado
menos surpreendente, porém mais assustadora.
No mundo em
questão, os sentimentos são tratados com cautela, negligência e até
pragmatismo, a tal ponto que as cartas escritas à mão, justamente uma das
demonstrações mais marcantes e tangíveis de afeto (provavelmente elas
sobreviveram justamente por isso, já que as pessoas parecem estar à beira de
perder a capacidade de escrever à mão diante de tantos celulares e aparelhos
digitais por todos os lados), viraram um item a ser comprado e encomendado.
Afinal de contas, tudo se compra e tudo se faz com a ajuda de computadores, mas
um computador não pode expressar emoções tão eloquentemente quanto uma pessoa
de verdade. Já em 2000, antes da explosão da internet banda larga, PJ Harvey dizia
na música The Letter, “who is left
that writes letter these days?”, descrevendo assim o fetiche das velhas cartas:
“it turns me on/to imagine/your blue eyes/on my words”. O trabalho de escrever
as tais cartas a partir de fragmentos da vida dos outros é perfeito para
Theodore, um escritor inseguro e recluso, de personalidade sensível
e frágil. Ele é ótimo para simular emoções dos outros e elaborar demonstrações
de carinho, mas parece ser incapaz de fazer isso com a mesma facilidade na vida
real.
Isso muda de
figura com a chegada dos OS1, que parecem ter sido feitos sob medida para um
homem solitário como Theodore. Como era de se esperar, ele se encontra tão desesperado
por carinho que se apaixona por Samantha, seu sistema operacional, que de certa
forma é tão saturada de emoções pré-programadas e tão carente quanto ele,
fazendo tudo para agradá-lo. Suas necessidades meio que se completam, com
Samantha se desenvolvendo e parecendo ficar mais artificial e mais humana ao
mesmo tempo, o que é interessante para o filme, mas inevitavelmente cria
problemas para Theodore. A grande sacada é proporcionar momentos em que
Theodore parece mais máquina que Samantha, sendo ela tão espontânea e “leve”, enquanto
ele é ligeiramente travado e parece reagir de forma mecânica em certas
situações. Mesmo assim, às vezes a fragilidade de Theodore e a “perfeição” de
Samantha parece passar um pouco da conta, parecendo um pouco insistentes, assim
como o status de “escritor solitário” de Theodore, vagando sozinho pela
floresta e transitando entre a multidão da cidade.
A trilha sonora composta
pela banda Arcade Fire também parece insistente e um pouco desnecessária às
vezes (mesmo quando serve só como plano de fundo), principalmente nas partes com
o bom e velho pianinho para aumentar a dramaticidade de uma cena. As músicas
funcionam melhor quando realmente tomam conta da ação do filme, como nas “sinfonias”
escritas por Samantha. O filme é melhor resolvido visualmente, com um cenário
futurista sem exageros ou equipamentos chamativos demais. Num mundo aparentemente
dominado por uma decoração minimalista meio à
la Tok & Stok, os cômodos são assépticos e repletos de espaços vazios
que mais oprimem e isolam as pessoas do que as libertam. Visto através de um
filtro que reduz as cores e o brilho e dá certo destaque aos tons de amarelo e
rosa (que inevitavelmente lembra uma estética Instagram). As únicas cores
realmente vivas parecem surgir em paisagens naturais, como a praia e a
montanha. Mas o que mais se destaca é a proximidade frequente da câmera com
Theodore (e ocasionalmente com outros personagens, principalmente Amy, muito
bem interpretada por Amy Adams, que parece mais autêntica do que nunca), que realçam a sensação de intimidade e o tom frequentemente confessional do filme. Essa proximidade se revela através de supercloses frontais que realçam as nuances da ótima interpretação
de Joaquin Phoenix, planos de cima para baixo como se Theodore fosse vigiado
por um tipo de inteligência superior ou planos do lado da cama, como se ele
fosse visto por alguém que estivesse dividindo a cama. As tomadas que simulam
uma visão em primeira pessoa também chamam a atenção, sendo usadas muito bem
para retratar as súbitas lembranças de Theodore, principalmente as que envolvem
sua ex-esposa.
Apesar do tom do
filme ser levemente melancólico e resignado, o roteiro de Spike Jonze reserva
alguns momentos sarcásticos, nos quais o diretor brinca com o estado afetivo dessa
sociedade, como quando todos no metrô parecem estar imersos em relações com
seus próprios SOs, desconexos do mundo real. Às vezes Jonze também chega a
flertar com o absurdo, como quando uma mulher do chat pede que Theo finja que a
está esganando com um gato morto (como se fingir uma transa por telefone com um
desconhecido já não fosse estranho e ridículo o suficiente), ou quando uma
mulher “empresta” o corpo a Samantha ao se comover com o amor dela por Theo.
Ao mostrar as
várias fases do relacionamento de Theo com Samantha, desde a emoção da primeira
“transa” e o clássico “só liguei pra dizer que te amo” até a crise de ciúmes e
o desespero quando o par some, Jonze critica nossa dependência em computadores
ao mesmo tempo em que cria uma jornada emocional e afetiva onde é fácil se identificar
de alguma forma ou em algum ponto. Ao fim, Theodore (e Amy, mas de outra forma,
já que seu relacionamento era “real” e parecia bastante estável, mas passível
de um fim da mesma forma que o de Theo) parece aprender que o par perfeito não
existe (o modo como o relacionamento termina é perfeito para mostrar isso, além
do fato de tornar o caso mais humano, já que pessoas param de se amar e
desistem de relacionamentos subitamente com frequência), e que relacionamentos
são coisas extremamente complicadas que podem lhe destruir emocionalmente, mas
que vale a pena sentir na pele esse turbilhão de sentimentos, e que se deve
valorizar justamente isso: o contato, a pele, as experiências verdadeiras, por
mais dolorosas que elas possam ser.